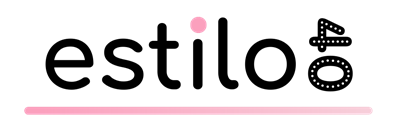Como já escrevemos aqui, em 2017 a FLIP homenageia o escritor Lima Barreto, que era excepcional cronista. Seus escritos, para jornais e revistas da época, envolvem o leitor não só pela linguagem despojada, combativa e irônica – encontrada também em Triste fim de Policarpo Quaresma –, como também por continuarem extremamente atuais.
Escritas em sua maioria entre 1918 e 1922, revelam a sua revolta e insatisfação com as instituições políticas e sociais. Sem se exaltar, em tom de conversa familiar, ele denuncia aspectos cruéis da sociedade brasileira – o que mantém seus textos extremamente contemporâneos.
Na antologia Lima Barreto – Crônicas para Jovens, lançada pela Global Editora, estão presentes desde textos em que o autor discorre sobre problemas que a República – que nasceu durante sua juventude – não conseguiu solucionar – como o racismo e as desigualdades sociais -, até o problema da violência que acompanhava as partidas de futebol, num tempo em que o esporte ainda dava seus primeiros passos no Brasil. Sua preocupação com os efeitos perversos das reformas urbanas feitas no Rio de Janeiro nas duas primeiras décadas do século XX também pode ser visto em crônicas como “As enchentes”, “O desastre”, “Megalomania” e “O prefeito e o povo” e “A revolta do mar”.
No prefácio de Gustavo Henrique Tuna, responsável pela seleção deste livro, ele avalia que as crônicas de Lima Barreto “indiciam sua independência de pensamento em relação aos poderes estabelecidos no país e são marcadas pela sua vontade incessante de se pronunciar a respeito das crueldades da vida cotidiana, sublinhando as injustiças sociais que atingiam as camadas mais humildes da população e zombando dos costumes de uma elite que, aos seus olhos, lhe parecia egoísta e constantemente cega às necessidades mais amplas do país.”
Selecionamos a crônica abaixo, uma mostra bem concreta da linguagem precisa – e muitas vezes repleta de humor – de Lima Barreto sobre as questões da sociedade – como o preconceito -, que continuam atuais até hoje. Boa leitura!
O caso do mendigo, Lima Barreto
Os jornais anunciaram, entre indignados e jocosos, que um mendigo, preso pela polícia, possuía em seu poder valores que montavam à respeitável quantia de seis contos e pouco.
Ouvi mesmo comentários cheios de raiva a tal respeito. O meu amigo X, que é o homem mais esmoler desta terra, declarou-me mesmo que não dará mais esmolas. E não foi só ele a indignar-se. Em casa de família de minhas relações, a dona da casa, senhora compassiva e boa, levou a tal ponto a sua indignação, que propunha se confiscasse o dinheiro ao cego que o ajuntou.
Não sei bem o que fez a polícia com o cego. Creio que fez o que o Código e as leis mandam; e, como sei pouco das leis e dos códigos, não, estou certo se ela praticou o alvitre lembrado pela dona da casa de que já falei.
O negócio fez-me pensar e, por pensar, é que cheguei a conclusões diametralmente opostas à opinião geral.
O mendigo não merece censuras, não deve ser perseguido, porque tem todas as justificativas a seu favor. Não há razão para indignação, nem tampouco para perseguição legal ao pobre homem.
 Tem ele, em face dos costumes, direito ou não a esmolar? Vejam bem que eu não falo de leis; falo dos costumes. Não há quem não diga: sim. Embora a esmola tenha inimigos, e dos mais conspícuos, entre os quais, creio, está M. Bergeret, ela ainda continua a ser o único meio de manifestação da nossa bondade em face da miséria dos outros. Os séculos a consagraram; e, penso, dada a nossa defeituosa organização social, ela tem grandes justificativas. Mas não é bem disso que eu quero falar. A minha questão é que, em face dos costumes, o homem tinha direito de esmolar. Isto está fora de dúvida.
Tem ele, em face dos costumes, direito ou não a esmolar? Vejam bem que eu não falo de leis; falo dos costumes. Não há quem não diga: sim. Embora a esmola tenha inimigos, e dos mais conspícuos, entre os quais, creio, está M. Bergeret, ela ainda continua a ser o único meio de manifestação da nossa bondade em face da miséria dos outros. Os séculos a consagraram; e, penso, dada a nossa defeituosa organização social, ela tem grandes justificativas. Mas não é bem disso que eu quero falar. A minha questão é que, em face dos costumes, o homem tinha direito de esmolar. Isto está fora de dúvida.
Naturalmente ele já o fazia há muito tempo, e aquela respeitável quantia de seis contos talvez represente economias de dez ou vinte anos.
Há, pois, ainda esta condição a entender: o tempo em que aquele dinheiro foi junto. Se foi assim num prazo longo, suponhamos dez anos, a coisa é assim de assustar? Não é. Vamos adiante.
Quem seria esse cego antes de ser mendigo? Certamente um operário, um homem humilde, vivendo de pequenos vencimentos, tendo às vezes falta de trabalho; portanto, pelos seus hábitos anteriores de vida e mesmo pelos meios de que se servia para ganhá-la, estava habituado a economizar. É fácil de ver por quê. Os operários nem sempre têm serviço constante. A não ser os de grandes fábricas do Estado ou de particulares, os outros contam que, mais dias, menos dias, estarão sem trabalhar, portanto sem dinheiro; daí lhes vem a necessidade de economizar, para atender a essas épocas de crise.
Devia ser assim o tal cego, antes de o ser. Cegando, foi esmolar. No primeiro dia, com a falta de prática, o rendimento não foi grande; mas foi o suficiente para pagar um caldo no primeiro frege que encontrou, e uma esteira na mais sórdida das hospedarias da rua da Misericórdia. Esse primeiro dia teve outros iguais e seguidos; e o homem se habituou a comer com duzentos réis e a dormir com quatrocentos; temos, pois, o orçamento do mendigo feito: seiscentos réis (casa e comida) e, talvez, cem réis de café; são, portanto, setecentos réis por dia.
Roupa, certamente, não comprava: davam-lha. É bem de crer que assim fosse, porque bem sabemos de que maneira pródiga nós nos desfazemos dos velhos ternos.
Está, portanto, o mendigo fixado na despesa de setecentos réis por dia. Nem mais, nem menos; é o que ele gastava. Certamente não fumava e muito menos bebia, porque as exigências do ofício haviam de afastá-lo da “caninha”. Quem dá esmola a um pobre cheirando a cachaça? Ninguém.
Habituado a esse orçamento, o homenzinho foi se aperfeiçoando no ofício. Aprendeu a pedir mais dramaticamente, a aflautar melhor a voz; arranjou um cachorrinho, e o seu sucesso na profissão veio.
Já de há muito que ganhava mais do que precisava. Os níqueis caíam, e o que ele havia de fazer deles? Dar aos outros? Se ele era pobre, como podia fazer? Pôr fora? Não; dinheiro não se põe fora. Não pedir mais? Aí interveio uma outra consideração.
Estando habituado à previdência e à economia, o mendigo pensou lá consigo: há dias que vem muito; há dias que vem pouco, sendo assim, vou pedindo sempre, porque, pelos dias de muito, tiro os dias de nada. Guardou. Mas a quantia aumentava. No começo eram só vinte mil-réis; mas, em seguida foram quarenta, cinqüenta, cem. E isso em notas, frágeis papéis, capazes de se deteriorarem, de perderem o valor ao sabor de uma ordem administrativa, de que talvez não tivesse notícia, pois, era cego e não lia, portanto. Que fazer, em tal emergência, daquelas notas? Trocar em ouro? Pesava, e o tilintar especial dos soberanos, talvez atraísse malfeitores, ladrões. Só havia um caminho: trancafiar o dinheiro no banco. Foi o que ele fez. Estão aí um cego de juízo e um mendigo rico.
Feito o primeiro depósito, seguiram-se a este outros; e, aos poucos, como hábito é segunda natureza, ele foi encarando a mendicidade não mais como um humilhante imposto voluntário, taxado pelos miseráveis aos ricos e remediados; mas como uma profissão lucrativa, lícita e nada vergonhosa.
Continuou com o seu cãozinho, com a sua voz aflautada, com o seu ar dorido a pedir pelas avenidas, pelas ruas comerciais, pelas casas de famílias, um níquel para um pobre cego. Já não era mais pobre; o hábito e os preceitos da profissão não lhe permitiam que pedisse uma esmola para um cego rico.
O processo por que ele chegou a ajuntar a modesta fortuna de que falam os jornais, é tão natural, é tão simples, que, julgo eu, não há razão alguma para essa indignação das almas generosas.
Se ainda continuasse a ser operário, nós ficaríamos indignados se ele tivesse juntado o mesmo pecúlio? Não. Por que então ficamos agora?
 É porque ele é mendigo, dirão. Mas é um engano. Ninguém mais que um mendigo tem necessidade de previdência. A esmola não é certa; está na dependência da generosidade dos homens, do seu estado moral psicológico. Há uns que só dão esmolas quando estão tristes, há outros que só dão quando estão alegres e assim por diante. Ora, quem tem de obter meios de renda de fonte tão incerta, deve ou não ser previdente e econômico?
É porque ele é mendigo, dirão. Mas é um engano. Ninguém mais que um mendigo tem necessidade de previdência. A esmola não é certa; está na dependência da generosidade dos homens, do seu estado moral psicológico. Há uns que só dão esmolas quando estão tristes, há outros que só dão quando estão alegres e assim por diante. Ora, quem tem de obter meios de renda de fonte tão incerta, deve ou não ser previdente e econômico?
Não julguem que faço apologia da mendicidade. Não só não faço como não a detrato.
Há ocasiões na vida que a gente pouco tem a escolher; às vezes mesmo nada tem a escolher, pois há um único caminho. É o caso do cego. Que é que ele havia de fazer? Guardar. Mendigar. E, desde que da sua mendicidade veio-lhe mais do que ele precisava, que devia o homem fazer? Positivamente, ele procedeu bem, perfeitamente de acordo com os preceitos sociais, com as regras da moralidade mais comezinha e atendeu às sentenças do Bom homem Ricardo, do falecido Benjamin Franklin.
As pessoas que se indignaram com o estado próspero da fortuna do cego, penso que não refletiram bem, mas, se o fizerem, hão de ver que o homem merecia figurar no Poder da vontade, do conhecidíssimo Smiles.
De resto, ele era espanhol, estrangeiro, e tinha por dever voltar rico. Um acidente qualquer tirou-lhe a vista, mas lhe ficou a obrigação de enriquecer. Era o que estava fazendo, quando a polícia foi perturbá-lo. Sinto muito; e são meus desejos que ele seja absolvido do delito que cometeu, volte à sua gloriosa Espanha, compre uma casa de campo, que tenha um pomar com oliveiras e a vinha generosa; e, se algum dia, no esmaecer do dia, a saudade lhe vier deste Rio de Janeiro, deste Brasil imenso e feio, agarre em uma moeda de cobre nacional e leia o ensinamento que o governo da República dá… aos outros, através dos seus vinténs: “A economia é a base da prosperidade”.
Bagatelas, 1911
Sobre o autor: Afonso Henriques de Lima Barreto nasceu no Rio de Janeiro em 13 de maio de 1881. Foi romancista, contista e cronista. Negro e de origem humilde, colaborou ao longo de sua vida para vários jornais e revistas. Em seus textos, retratou com perspicácia e ironia as contradições de sua época, período inicial do regime republicano no Brasil. Seus romances mais conhecidos são Recordações do escrivão Isaías Caminha (1909), Triste fim de Policarpo Quaresma (1915), Vida e morte de M. J. Gonzaga de Sá (1919) e Clara dos Anjos (1948). Dentre seus contos, destacam-se “A nova Califórnia” (1910), “O homem que sabia javanês (1911) e “Dentes negros e cabelos azuis” (1920). Simultaneamente à sua carreira de escritor, foi funcionário da Diretoria do Expediente da Secretaria da Guerra. Faleceu no Rio de Janeiro, em 1º de novembro de 1922.
- MISTÉRIO SEMPRE HÁ DE PINTAR POR AÍ - 09/12/2024
- “ALIKE” – PARA QUE EDUCAMOS AS CRIANÇAS? - 22/05/2024
- UM ANO SEM LUNA - 15/05/2024