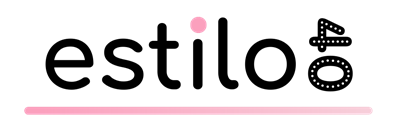No último dia do ano passado fui lá.
Fui buscar a velha Lanofix. Fingi que ia só para isso. Mentira. Fui para ver a casa morta. A casa onde nasci e cresci. Fechada há sete anos, desde que o último de seus sete habitantes se mudou de lá. Três deles não precisam mais de casa: meu avô, minha avó, minha mãe. A tríade que, em parte, me justifica.
A casa número 1 da pequena vila na Mooca está à venda. Ninguém quer comprar. Pudera. Quem quer uma casa morta? Morreu de solidão, depois que todos nós saímos. O reboco de algumas paredes cedeu. Sua pintura está descascada. A casa morta não tem mais pele. Nem carne. É apenas um esqueleto sem ânima. Ossos sustentando, sem vontade, um punhado de coisas importantes, além da Lanofix, inexplicavelmente largadas para trás: o carrinho de mão do meu avô, a enceradeira tão grande na qual “passeávamos” em dia de faxina. Meu violão, comprado no Mappin em três prestações. Os santos, hoje carcomidos, no quarto dos meus avós. No chão da sala ainda está o antigo telefone, daqueles de tecla. Penso que ele pode tocar a qualquer momento. Não sei se eu o atenderia.
Lanofix era a máquina de tricô da minha mãe. Ela fazia roupas de bebê para vender. Até a ‘ajudei’, quando criança, arruinando uma encomenda inteira. Depois de grande, aprendi a usá-la direitinho e fiz várias roupas para mim. Acabou esquecida em um dos armários. E no último dia do ano passado foi dia de buscá-la. Visitar a casa vazia foi como exumar as lembranças e reencontrar meus fantasmas de lã.
Tive algum medo de entrar na velha casa desdentada, de puro osso. Medo de ver coisas esquisitas, gente flutuando. Dizia para mim mesma: “A Lanofix, Silmara. É só trazer a Lanofix e pronto”. Funcionou, pois não vi nada, nem ninguém. Todos os fantasmas haviam saído. Houve uma hora, no entanto – é preciso contar, ainda que ninguém acredite – , em que eu já estava fora da casa e uma porta rangeu lá dentro. Não ventava e as janelas estavam fechadas. Eram eles, voltando.
 No quarteirão, antes feito de casas, agora se vê um monte de edifícios. Do meio da vila, que no passado já teve um jardim com limoeiro, seringueira e pé de mexerica, antes de dar espaço aos carros dos moradores das quatro casinhas geminadas, eu digo aos pálidos prédios erguidos ao redor: “Vocês não sabem de nada”.
No quarteirão, antes feito de casas, agora se vê um monte de edifícios. Do meio da vila, que no passado já teve um jardim com limoeiro, seringueira e pé de mexerica, antes de dar espaço aos carros dos moradores das quatro casinhas geminadas, eu digo aos pálidos prédios erguidos ao redor: “Vocês não sabem de nada”.
Não sabem que foi nessa casa, em 1957, que meus pais fizeram sua festa de casamento, no quintal. (Vejo as fotos e custo a crer que coube tanta gente ali. Hoje, nele, mal cabemos minhas memórias e eu.) Não sabem que foi no quarto da frente que meu irmão nasceu, dois anos depois. Não sabem que nessa vila organizei, numa tarde qualquer dos anos 70, a festa de batizado para nosso gato Tommy (que ganhou esse nome em homenagem ao musical – nada como ter irmãos roqueiros), e um bocado de gente compareceu. Não sabem, aliás, dos amados bichinhos de estimação, entre cães, gatos e passarinhos, enterrados nela (inclusive o Tommy). Não sabem que naquela casa ganhei meu primeiro sutiã, e que ali minha mãe chorou o seio tomado pelo câncer. Prédios bobos, não sabem nada de nada.
E eu não sei mais usar a Lanofix. Mesmo assim, a trouxe comigo para minha casa viva. Está abrigada em sua elegante caixa verde. Talvez eu consiga, na internet, o manual dela. Talvez a opere, na intuição, e consiga tricotar alguma roupa nela novamente. Talvez eu ligue os pontos que faltam na trama da minha história. Talvez.
*Fotos de arquivo pessoal
- ALLAH-LA-Ô - 08/02/2024
- FELIZ NATAL - 23/12/2023
- PARA QUEM NÃO ACREDITA EM PAPAI NOEL - 05/12/2023